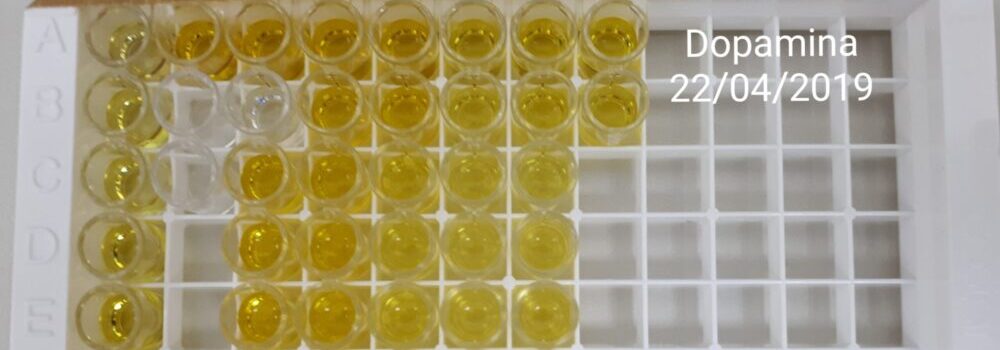Uma mulher sem rosto. Eis a capa do livro escrito pela pernambucana Martha Batalha lançado em 2016 (CIA das Letras), que inspirou o filme “A vida invisível” de Karim Aïnouz. Se me faltava ar ao sair da sala do cinema pela brutalidade do que vi, ao ler o livro respirei, ainda que em momentos sufocada, a vida como ela é. Ao menos do lugar de onde a vejo.
Em ambas as representações sobre a vida de mulheres sem rosto há espaço para identificação e compaixão pelas protagonistas, as irmãs Eurídice e Guida Gusmão. No longa-metragem de Karim, a crueldade da invisibilidade é revelada em todo seu peso nas reviravoltas da trama, marcada por projetos e encontros interrompidos. Nas páginas escritas por Martha, a perversidade se desvela nas relações mais cotidianas, da família aos vizinhos. Em cada gesto e palavra que desviavam os caminhos sonhados pelas irmãs.
Explico, ou tento: a história de Eurídice, como muitos observaram, poderia ser a história da maioria de nós. E de nossas mães, avós e bisavós. Não à toa. Afinal, a autora afirmou ter se inspirado nos destinos roubados às mulheres com que conviveu: se tornaram amargas, inseguras, frustradas ou docemente resignadas ao papel que lhes coube. São histórias de mães que reconhecem nas filhas o sentimento de não poder viver o que desejavam. Filhas que herdam das mães dúvidas sobre sexualidade e o silêncio diante da autoridade e abusos de pais, namorados, flertes e maridos.
À Eurídice, como à Guida e a muitas outras mulheres, foi negado se tornar quem queria ser. Desde que nasceu nos anos 1920, seus pais, portugueses de um bairro de classe média do Rio de Janeiro, lhe prepararam para ser uma boa esposa e uma boa mãe. Seus talentos intelectuais e artísticos eram incentivados e orgulhosamente exibidos para conhecidos desde que não prejudicassem esse fim.
Justamente por ser brilhante em tudo que fazia, era repreendida e mal falada, não só por homens como seu pai e seu marido, mas por outras mulheres. Todos compartilhavam do consenso sobre o que uma menina branca de classe média deveria ser, o seu papel social.
Apesar da fofoca se personificar em Zélia, a vizinha bisbilhoteira da vida adulta de Eurídice, vemos nas cenas mais recorrentes a cumplicidade de todos no falatório que impunha o que era adequado esconder e mostrar aos olhos dos outros. Seja na quitanda dos pais, nas ruas da vizinhança, no ambiente de trabalho, nas salas de aula ou até na sala de estar. Mais cedo ou mais tarde, parecia não haver parede que protegesse qualquer um dos comentários supostamente preocupados ou abertamente maldosos, das gargalhadas e olhares humilhantes que apequenavam quem não se adequasse ao seu papel e lugar.
O contraponto de Eurídice era sua irmã Guida. Um espelho em que podia ver o que acontece com aquelas que romperam mesmo que parcialmente com o roteiro que lhes foi designado. Na sua busca por atingir modelos de feminilidade e de amor romântico, Guida optou pela fuga de casa e pagou caro por isso. Deixou de ser filha aos olhos dos pais, se distanciou da irmã e acabou encontrando em outras mulheres a família que ficou para trás.
Para não ter esse destino errante, sentido como pior que a morte, Eurídice escolheu ser uma filha, esposa e mãe exemplar. O preço foi a sua voz, que parecia desaparecer como o rosto da capa. Escondeu tanto suas habilidades que não via mais a si mesma.
Mas para além das protagonistas, a escritora nos apresenta um emaranhado jogo de visibilidades e invisibilidades de várias vidas, umas mais visíveis a nós leitoras e leitores do que outras. Muitas personagens gritam em seus silenciamentos as desigualdades de gênero, classe, moradia e raça, os preconceitos referentes à sexualidade, a violência sexual fora e dentro de casa, bem como as cicatrizes do abandono parental como prática social recorrente [1].
Uma das mais emblemáticas é Maria das Dores, a empregada doméstica de Eurídice. Após resumir que ela sempre trabalhava pensando nos “três filhos que se criavam sozinhos”, a narradora se detém, explicando em tom irônico:
“Mas esta não é a história de Maria das Dores. Maria das Dores inclusive só aparece por aqui de vez em quando, na hora de lavar uma louça ou fazer uma cama. Esta é a história de Eurídice Gusmão, a mulher que poderia ter sido.”
Das Dores vai se revelando em linhas aqui e acolá uma empregada exemplar, que abaixa a cabeça frente aos desmandos de todos os patrões: pais e filhos, adultos e crianças. Era tão silenciosa ao deixar rastros de cuidado na casa sem ninguém ver, que se tornou uma verdadeira testemunha da vida da Eurídice adulta. Invisível ao ponto de ser a única que sabia dos hábitos mais rotineiros e secretos da patroa – tão escondidos que nem mesmo a fofoca da vizinhança alcançava.
As violências vividas por Das Dores não são descritas como aquelas vivenciadas por Eurídice e sua irmã Guida. No caso dessas, o enredo permitiu que o tempo trabalhasse pacientemente as suas relações consigo mesmas e com seus familiares. Com o tempo, reinterpretaram eventos, refizeram suas memórias e reviram formas de conviverem com suas dores e sentimentos ambíguos por figuras que lhes causaram sofrimento [2].
Taí o aspecto mais impressionante da narrativa do livro: a história contada pelo cotidiano, em seus aspectos mais triviais e ao mesmo tempo ricos em reflexão. Talvez seja isso que o cineasta Karim tenha chamado de “cores femininas do texto”, relatando ter ficado surpreso quando o convidaram para adaptá-lo ao cinema, por ser homem. A escritora, por sua vez, também parece ter identificado suas diferenças de olhar e estilo, ao chamar o filme de melodrama e o livro de tragicomédia.

Cartaz do filme de Karim Aïnouz, estrelado por atrizes incríveis. Vejam! Estão demais!
De fato, o filme deu foco aos acontecimentos violentos mais aparentes e reescreveu a história de Eurídice como um comovente “grito contra o patriarcado”, nas palavras de Karim. Já Martha foi bem sucedida ao iluminar variadas injustiças e violências em cenas banais que todos vivenciamos todo santo dia.
Mais importante do que explicar essas diferentes formas de contar a história pelas suas vivências de gênero – o que está além do meu alcance – gostaria de ressaltar a importância da descrição minuciosa e paciente de Martha. Embora ela aponte a invisibilização dessa realidade, conseguiu pintá-la em várias tonalidades e cores, expressando suas contradições e as violências pouco vistas e visibilizadas mesmo por quem busca criticar as opressões de gênero [3]. No percurso das variadas formas de apagamento de seus rostos, as protagonistas redesenham seus traços, emergindo como autoras da sua história entrelaçada.
Nota aos cariocas e aos sobreviventes de pandemias e ditaduras
Além de todas as qualidades do livro de Martha Batalha, há uma espécie de bônus para quem morou ou mora no Rio de Janeiro. Por ter crescido nessa cidade, a autora retratou com precisão a sua dinâmica urbana através das circulações das personagens pela Zona Sul, Centro e Zona Norte. Além disso, registrou um pouco de sua história, fazendo uma breve menção aos universitários que resistiram à ditadura militar (1964-1985). Um tanto profético tendo em vista a ascensão do autoritarismo no Brasil desde 2016, ano da publicação do livro.
Pode soar ainda mais profético para leitoras e leitores pós-pandemia da COVID-19 as páginas que rememoram a gripe espanhola, que matou entre 30 a 50 mil pessoas no país em 1918 – dessas, cerca de 15 mil foram no Rio, onde mais de 60% da população foi hospitalizada. Semelhante ao que vemos hoje, autoridades também chamavam a gripe espanhola de “gripezinha” ou de “limpa-velhos” (!!!).

A primeira página do jornal Gazeta de Notícias, 15 de outubro de 1918, reclamando da negligência do governo.
Fonte: Blog Cientistas Feministas.
Notas do texto
[1] As histórias do livro são marcadas por diferentes formas de distância afetiva da figura paterna e pelo papel das mães no cuidado dos filhos. No artigo “O tempo do cuidado: batalhas femininas por autonomia e mobilidade” (2018), a antropóloga Camila Fernandes mostrou como pais naturalizavam o abandono de seus filhos até com piadas, visto ainda ser uma prática em grande medida aceita e justificada socialmente. Já as mães que deixaram seus filhos aos cuidados dos outros costumavam carregar uma culpa avassaladora, pois eram julgadas a partir do “mito da mãe sacrificial, sempre paciente e presente, aquela que tudo deve dar e nada receber”, enquanto “a prática masculina da ‘distância’ repousa […] na ideia de que o tempo feminino é um bem ilimitado, uma fonte de recursos disponível ao extrativismo predatório.” (p.320). Nos casos que observou, a invisibilização do tempo despendido no cuidado das crianças e idosos pelo Estado e pelas famílias limitou a autonomia e mobilidade de quem cuida.
Em sua tese de doutorado “Figuras da causação: sexualidade feminina, reprodução e acusações no discurso popular e nas políticas de Estado” (2017), Camila Fernandes analisou discursos que julgam mães por não cumprirem seu papel social. Além disso, etnografou “casas de cuidado” nas favelas do Rio de Janeiro, uma realidade próxima ao que aparece na trajetória errante de Guida Gusmão, abandonada grávida pelo marido.
[2] Me baseio em Veena Das, antropóloga que pesquisou como as violências étnica e de gênero da Partição da Índia em 1949 (evento que levou à criação do Paquistão) foram inscritas nos corpos femininos e nas suas relações. No artigo “Fronteiras, violência e o trabalho do tempo: alguns temas wittgensteinianos” (1999), Veena Das demonstrou como: “A habilidade de ‘falar a violência’ encontra-se nos recessos dessa cultura de encenar e de contar histórias, no interior dos domínios da família e do parentesco. O tempo não é algo meramente representado, mas um agente que ‘trabalha’ nas relações, permitindo que sejam reinterpretadas, reescritas, modificadas, no embate entre vários autores pela autoria das histórias nas quais coletividades são criadas ou recriadas.” (p.37).
[3] A tese da antropóloga Marcela Centelhas “Nas águas das políticas: as mulheres, as cisternas e o curso da vida no agreste pernambucano” (2019) me inspirou a refletir sobre o contraste entre a narrativa do filme e do livro. Ao tratar dos jogos de invisibilidades e visibilidades dos usos da água por mulheres pobres, negras e sertanejas, Marcela Centelhas argumentou que olhar não só para os aspectos mais dramáticos e aparentes dessa relação (“escassez”, “crise”), mas para suas trivialidades do dia a dia permite desfazer a dicotomia usual entre casa e rua, privado e público. Denúncias à invisibilidade do trabalho doméstico dessas mulheres muitas vezes acabaram por invisibilizar a potência dos modos de realização de suas atividades cotidianas que, longe de se restringirem à domesticidade e à família, incidem em todos os âmbitos da vida: do trabalho “na rua” à participação político-eleitoral e elaboração de políticas públicas. Daí a importância política e analítica de compreender os significados conferidos pelas próprias mulheres ao curso de suas vidas e não partir de presunções sobre o que é ou não valorizado e visibilizado. Para saber mais, assista ao debate do Núcleo de Estudos e Extensão em Desenvolvimento e Território (NEDET), no qual explicou as linhas gerais de sua pesquisa.
[4] A historiadora Adriana da Costa Goulart descreveu em detalhes o horror que tomou as ruas do Rio de Janeiro com a gripe espanhola em seu artigo para o dossiê “A gripe espanhola no Brasil” (2005). Como hoje, as mortes incidiram sobretudo entre a população mais vulnerável com acesso precário a saneamento básico.