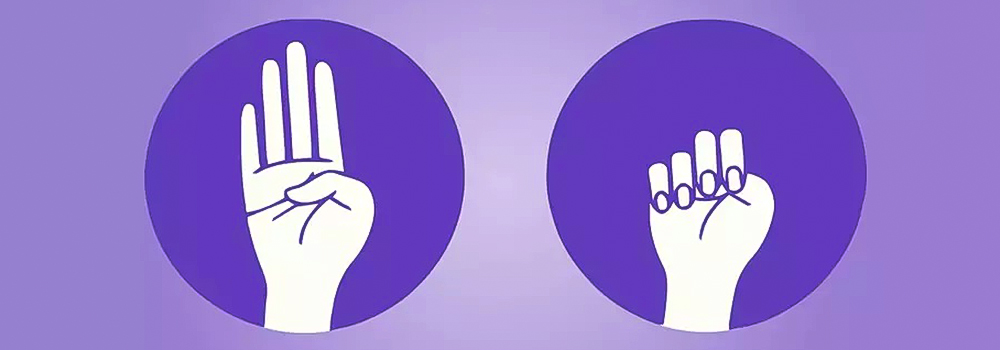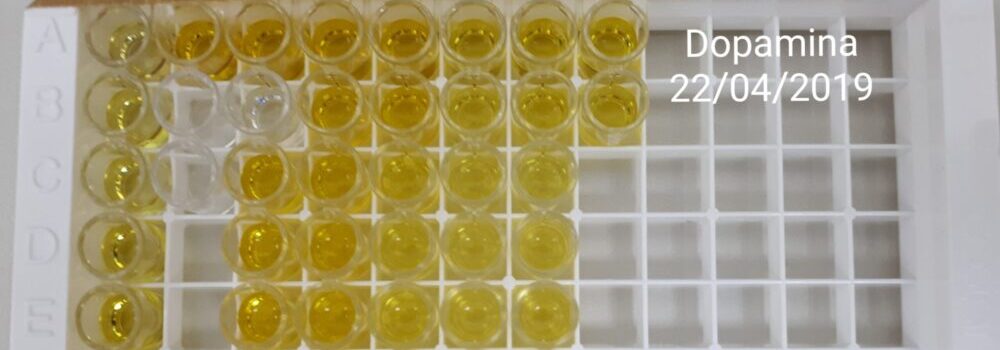Existe um fascínio amplamente verificável entre as pessoas dos setores mais diversos de nossa sociedade em relação aos Estados Unidos. Nas fachadas de estabelecimentos comerciais, tanto na periferia quanto nos Shoppings mais elegantes, termos em inglês aparecem como estratégia para atribuir ao local um caráter moderno. Diante de uma leitura popular de que o Brasil é um país atrasado, a recorrência a termos gringos seria uma forma de afastar o produto exposto de sua “brasilidade arcaica”. Geralmente tal admiração é mais percebida nas classes médias e de seu “suposto” desejo de morar em Miami, como apontam os acusadores de plantão.
Para além dos setores populares, tal paixão parece ter chegado com força nos estamentos mais altos de nossas instituições políticas. No último mês de maio, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro visitou o Texas e, antes de fazer seu discurso, prestou continência à bandeira americana. Apesar de ser entendido como um ato de respeito entre os militares, levanta controvérsias sobre o espírito nacionalista que o mesmo diz possuir.
Este sentimento de admiração pelas cores da bandeira americana poderia ser difícil de ser compreendido apenas por um viés histórico, uma vez que, aparentemente, o Brasil não possui laços evidentes que aproximariam sua história, sua língua e cultura de modo que incentivassem tais reações de afeto em relação aos EUA. Poderia. A verdade é que nada mais é tão diferente disso. Alguns aspectos de nossa geografia, da formatação do nosso território, do desenvolvimento histórico e de nossa modernização criaram pontes que nos aproximaram mais aos vizinhos do norte do que daqueles com os quais compartilhamos fronteiras diretas. Tal semelhança já chamou a atenção do filósofo brasileiro Mangabeira Unger que afirmou:
“o Brasil é o país do mundo mais parecido com os EUA, ainda que essa semelhança não seja reconhecida, nem nos EUA nem no Brasil”.
Mas como isso se deu?
Historicamente falando, desde o final do século XVIII, o vizinho do norte apareceu como uma referência para alguns líderes de revoluções frustradas que visavam a alcançar a independência do Brasil, como no caso da Inconfidência Mineira. Entretanto, é verdade que, após nossa separação de Portugal, em 1822, e nossa opção pela monarquia, tal relação sofreu um abalo.
Contudo, em novembro de 1889, quando finalmente nos transformamos em uma República, o modelo norte-americano foi aquele que mais nos inspirou, como um paradigma de sucesso. E isso ficou evidente não apenas em nossa opção pela federação, mas também pela adoção de um novo nome: República dos Estados Unidos do Brasil. No alvorecer do novo regime, o americanismo inspiraria nossa estrutura diplomática e encantaria alguns setores de nossa intelectualidade, sobretudo os educadores.
Assim, em maior ou menor grau, as décadas seguintes seriam marcadas por um processo de modernização de nossa sociedade, com a expansão de garantias de direitos, industrialização e instrução. Tratou-se de uma espécie de americanismo ao estilo brasileiro, uma vez que o condutor desse processo não foi a sociedade civil, mas o governo autoritário de Getúlio Vargas (1930 – 1945). Esta modernização exigiu a chegada de imigrantes de várias partes da Europa, com especial destaque aos italianos. Desta feita, assim como nos Estados Unidos, a imagem pouco precisa de um caldeirão cultural (melting pot, como se diz por lá) ganhou espaço na identidade brasileira, como solução para a caracterização de uma sociedade multiétnica, formada por indígenas, europeus e negros.
Com o tempo, não tardariam para também chegar as fábricas de automóveis (principalmente as estadunidenses) fazendo com que a inspiração americana em nossa política começasse a transbordar para as esferas cultural e do consumo. Simbolicamente, o grande embaixador dessa transição foi o personagem da Disney, Zé Carioca. Juntamente a ele, Carmen Miranda, em seu regresso aos palcos brasileiros, viria cantando “disseram que voltei americanizada”. Assim, não tardou para que nosso samba ganhasse elementos do Jazz, e a Bossa Nova se converteria em mais uma ponte a colocar Brasil e EUA em uma mesma cena, caracterizada por Tom Jobim e Frank Sinatra.
Na década de 1970, uma nova ditadura aceleraria ainda mais esse processo de americanização da cultura política brasileira. Não apenas por seus projetos de ocupação territorial dos estados mais distantes do litoral (nossa versão da expansão ao oeste), mas também pela formatação de um tipo de sociedade mais “egoísta”. Explico: o novo ciclo desenvolvimentista implementado pelo Regime Militar brasileiro gerou uma acentuação do individualismo, do gosto pelo consumo e pela ideia de auto realização. Agora, o modelo de self-made man viria para ficar. Como explica o historiador Alberto Aggio,
“após 20 anos de intensa transformação da sociedade, o americanismo aportou no ‘mundo dos de baixo’ e, com ele, a ‘revolução dos interesses’, coração dos movimentos sociais”.
Nesta escalada, a globalização promoveria um último passo decisivo a essa assimilação cultural. A internet intensificou nossa exposição aos elementos mais triviais da cultura americana com a audiência de realities shows dos mais diversos tipos, que abordam desde casamentos ciganos a confecção de bolos, permitindo-nos possuir ainda mais referências sobre o estilo de vida dos americanos, para além daqueles que já nos atingiam advindos da cultura pop tradicional, como no caso dos filmes e músicas.
E foi assim que a sociedade brasileira, desde estamentos mais baixos até a alta classe passou a cultivar interesse pela cultura americana, tentando emular seus hábitos, sua culinária (como no caso da revolução dos cupcakes em nossas padarias), venerando séries e artistas gringos, americanizando o nome das crianças (quem não conhece um Maicon?), incorporando palavras ao nosso vocabulário e, até mesmo, alterando nosso gosto por esporte. Por exemplo, não é difícil encontrar um fã de times da NBA ou NFL por aqui. Por isso, ainda que constrangedor, é plenamente compreensível que o atual presidente, um militar aposentado e oriundo da classe média nacional possua esse tipo de admiração genuína pelo país de Trump.
Para além da vastidão de seu território, da identidade multiétnica, a adoção do federalismo presidencialista, a modernização industrial e a inspiração das classes médias ao estilo de vida americano, outro traço que aproxima o Brasil dos EUA é o seu passado de escravidão, o racismo legado por tal prática nefasta e, para o bem ou para o mal, a reação dos grupos sociais em relação ao mesmo.
Desde a década de 1930, o movimento negro brasileiro estreitou seus laços com o norte-americano, gerando um intercâmbio de textos, símbolos e experiências de resistência. Primeiramente, os brasileiros serviram de inspiração aos irmãos do norte, mas, com o movimento do Civil Rights essa relação se inverteria. Black Power, Black Panther e seus respectivos heróis, bem como as políticas afirmativas, dariam novos traços ao movimento negro brasileiro dentro dos padrões descritos por Paul Gilroy em seu livro Atlântico Negro.
De maneira semelhante, as transformações na produção dos estudos sobre a escravidão nos EUA, mais ou menos no período do Civil Rights, também desembarcariam em solo brasileiro a partir da década de 1980, inspirando de maneira decisiva a historiografia dedicada a esse tema.
Porém, nem tudo foi bom. A reação ao empoderamento dos setores subalternos, sobretudo os negros, deixou mais evidente o racismo que até então se manifestava de forma velada em nosso território. Eis aqui uma diferença entre Brasil e EUA. Enquanto o racismo sempre foi algo explícito na cultura americana, aqui no Brasil, a falta de um tipo de orgulho WASP (branco, protestante e anglo saxão) e a nossa adesão mais ampla à imagem do caldeirão de raças fez com que as manifestações racistas geralmente ocorressem de forma escamoteada. Assim, da mesma maneira que o americanismo provocou uma maior busca por direitos e representatividade (principalmente na dinâmica do consumo), para o bem, o racismo começou a se mostrar mais evidente, o revisionismo histórico a respeito da escravidão e a reivindicação por porte de armas, para o mal, também ganharam espaço.
Finalmente, Richard Morse, cientista social norte-americano e que se encantou pelo Brasil, ao refletir sobre a América Latina, escreveu que nós tínhamos a chance de empreendermos um caminho ao ocidente sem que produzíssemos um “desencantamento” de nossa cultura, no sentido weberiano do termo. A metáfora usada por ele para descrever a relação dos países da América Latina com o vizinho do norte foi a do espelho que reflete uma imagem invertida de si. Ao que parece, o brasileiro se apegou à ideia de ser esta versão espelhada dos EUA. Ou melhor, uma realidade paralela dos vizinhos do norte em algum tipo de Upside Down.
Marcos Sorrilha. Professor de História da América na Universidade Estadual Paulista em Franca/SP; escritor de literatura fantástica, autor de “Lino Galindo e os Herdeiros do Trono do Sol”; e pai do Nicolas e do Henrique, meus parceiros de Minecraft nas horas vagas.