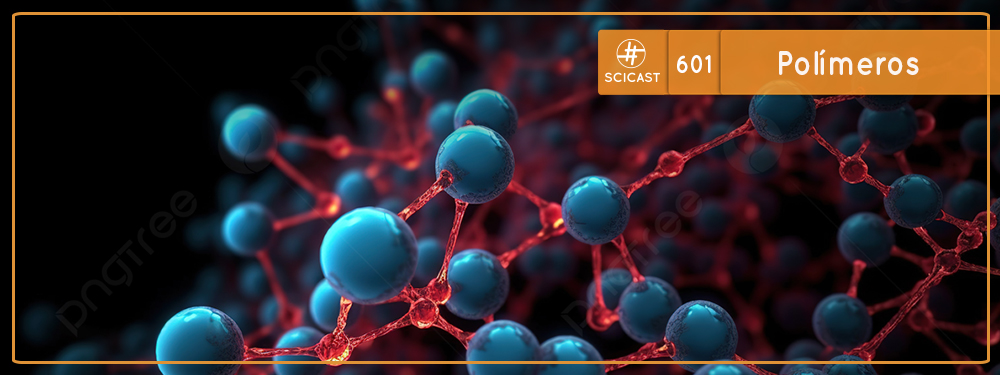A área de intersecção entre música e semiótica é um campo tão fértil quanto pantanoso. Fértil pois, obviamente, a música é uma das formas de expressão e comunicação mais atuantes na história da humanidade, e no dia a dia dos seres humanos individualmente. Pantanoso pois, com exceção das canções, que por definição contêm uma camada verbal capaz de expressar significado de forma clara e até óbvia, a música é frequentemente utilizada para expressar aquilo a que temos dificuldade de atribuir nome ou forma. Com suas diversas camadas de atuação – ritmo, melodia, harmonia, timbres, texturas, dinâmicas – interagindo constantemente entre si, muitas vezes se torna uma espécie de corda, ou laço, com a qual buscamos capturar e dar tangibilidade ao intangível.
É estranho ter que admitir isso, mas a música é uma forma de arte que tem dificuldade em comunicar significado intrínseco e objetivo. Não estou de forma alguma desmerecendo sua capacidade expressiva, mas meramente apontando que o significado atribuído a determinada obra musical muitas vezes consegue existir apenas em um nível subjetivo: o que o ouvinte sente ao escutar determinada melodia; ou as memórias que lhe são trazidas ao ouvir o som de determinado instrumento. São camadas de significado que existem apenas para aquele ouvinte, e que sequer estão sob total controle do compositor ou intérprete daquela obra.
Afinal, qual será o verdadeiro significado da melhor melodia de Pixinguinha, ou do melhor solo de Miles Davis? Certamente, essas obras significaram algo para seus criadores no momento em que vieram ao mundo, fosse uma vontade de expressarem o que estavam sentindo, ou uma mera necessidade de se superarem no domínio da técnica musical. No entanto, elas também adquirem significados potencialmente diferentes para cada novo ouvinte que as conhece. Para um estudante de música, podem ser grandes desafios; para um pesquisador, podem ser documentos históricos inigualáveis; para um entusiasta, podem ser excelentes trilhas sonoras para seus afazeres diários; e, para um desinteressado, nada mais que música de elevador. E, ao mesmo tempo em que cada uma dessas perspectivas é plenamente válida, é também plenamente possível que nenhuma delas, nem mesmo a do estudante ou do pesquisador, se aproxime do que se passava na mente dos criadores quando fizeram suas obras.
Nesse aspecto, fica óbvia a distância entre a música e, por exemplo, formas de arte puramente verbais ou visuais. É claro que essas também têm suas inúmeras camadas de subjetividade, mas creio que seria desonesto dizer que não são mais eficazes do que a música em expressar objetividade. Tomemos por exemplo o conceito de guerra.
Se quero falar sobre guerra em termos verbais, não é difícil encontrar recursos para tal. Posso utilizar a própria palavra guerra, bem como seu campo semântico associado: batalha, soldado, luta, arma, exército, avanço, recuo, vitória, derrota, inimigo, aliado. De fato, posso me valer dessas ferramentas para descrever determinada contenda de forma tão precisa que, séculos após, ainda existirão encenações realistas de como ela se deu. De forma semelhante operam as artes visuais, que podem me permitir ter uma noção clara das cores, formas e expressões faciais que permeiam um campo de batalha.
E se, no entanto, eu quiser falar sobre guerra valendo-me puramente de sons musicais, a tarefa será, no mínimo, um pouco mais complexa. Existem, é claro, algumas abordagens possíveis. Eu posso tentar utilizar instrumentos de percussão para emular o som de tiros de canhão, bem como o som dos violinos e violas para tentar me aproximar dos lamentos de dor dos soldados feridos. Mas, por se tratarem de aproximações, pode muito bem ser que o ouvinte não faça a associação imediata. Eu posso me valer de dinâmicas e elementos harmônicos da minha obra para tentar replicar no ouvinte o medo e a expectativa dos soldados em campo de batalha. Mas isso torna tudo ainda mais subjetivo do que a opção anterior. Ou eu posso tentar ser direto, e incorporar à minha composição elementos típicos da música militar, como um ritmo de marcha, percussões marcadas e melodias executadas por trompetes e trombones. Essa parece ser a opção mais clara, mas ainda assim, ela depende de que o ouvinte tenha tido contato prévio com esse tipo de repertório. Em todos os casos, ainda terei que contar com a subjetividade, e a interpretação que cada ouvinte fará dos elementos que apresento.
Esse desafio, de tentar capturar a guerra (assim como outros conceitos, tão amplos e abstratos quanto) em termos estritamente musicais, foi encarado pelo compositor britânico Gustav Holst em sua Magnum opus, a suíte The Planets. Executada publicamente pela primeira vez em 1918, essa obra é composta de 7 movimentos, cada um deles dedicado a um planeta do sistema solar (com exceção da Terra e de Plutão). E o mais interessante a respeito dela é que, a cada um dos planetas, Holst atribuiu uma espécie de arquétipo, que o orientaria na construção da música correspondente. Vênus, por exemplo, é o Mensageiro da Paz; assim como Júpiter é o Mensageiro da Alegria. Mas o primeiro e mais conhecido movimento da suíte é Marte, o Mensageiro da Guerra.
Ouvindo a obra de Holst, fica óbvio que se trata de uma representação musical da guerra? Não me parece que seja o caso. Não por inabilidade do compositor, mas simplesmente porque essa obviedade seja talvez inatingível. Fica claro que Holst utilizou alguns dos recursos mencionados anteriormente: o ritmo insistente, lembrando o avanço de uma marcha; a presença de metais nas melodias, e o emprego de sonoridades escuras, capazes de trazer uma sensação geral de ameaça e perigo. Mas a combinação de todos esses elementos nos informa unicamente sobre a interpretação musical que Holst faz da guerra, e de como ele quer apresenta-la para nós, ouvintes. Para ouvidos diferentes, que não necessariamente estejam informados sobre o teor ou o nome da obra, essa mesma música pode acabar falando sobre diversas outras coisas, que não necessariamente estejam associadas à guerra.
Isso fica claro quando elencamos algumas situações em que a melodia central de Marte, o Mensageiro da Guerra foi incorporada a produtos da cultura popular. Ela está presente, por exemplo, na introdução de Am I Evil?, do grupo britânico Diamond Head, um clássico do heavy metal setentista, cuja letra fala sobre a maldade do ser humano:
E como poderíamos nos esquecer da aplicação dessa mesma melodia como trilha sonora do eterno Mister M, deliberadamente contribuindo para o ar misterioso e sobrenatural de seu quadro na televisão?
Como podemos ver, as aplicações da obra de Holst na cultura popular mostram que, a despeito da intenção original do compositor, não necessariamente ela cria uma associação imediata com o conceito de guerra. E isso, torno a dizer, não tem nada a ver com a competência do artista, mas com a natureza subjetiva e abstrata da arte que ele opera.
É bem verdade que os conceitos de guerra, maldade e mistério não são de todo estranhos uns aos outros. Todos têm conexões claras com sentimentos de medo e ameaça, de forma que talvez possamos apontar isso como uma verdade quase objetiva: a sonoridade conquistada por Holst em Marte, o Mensageiro da Guerra é ameaçadora. Mas concluir isso só nos levaria a uma nova camada de problemas. Primeiro, o fato de que ameaça é um conceito ainda mais fluido e intangível do que guerra. E segundo, a questão: que elementos específicos na música de Holst seriam responsáveis por torná-la fundamentalmente ameaçadora? E quais seriam os mecanismos, semióticos ou mesmo neurológicos, que tornariam essa percepção uma verdade comum a todos os ouvintes de The Planets?
Confesso não fazer ideia das respostas para essas perguntas, ou mesmo se são as perguntas certas a se fazer. Mas garanto que continuaremos explorando essa caminho em reflexões futuras.