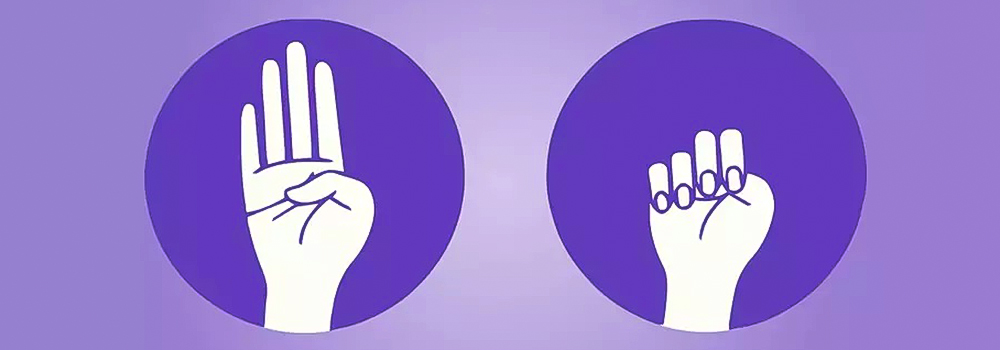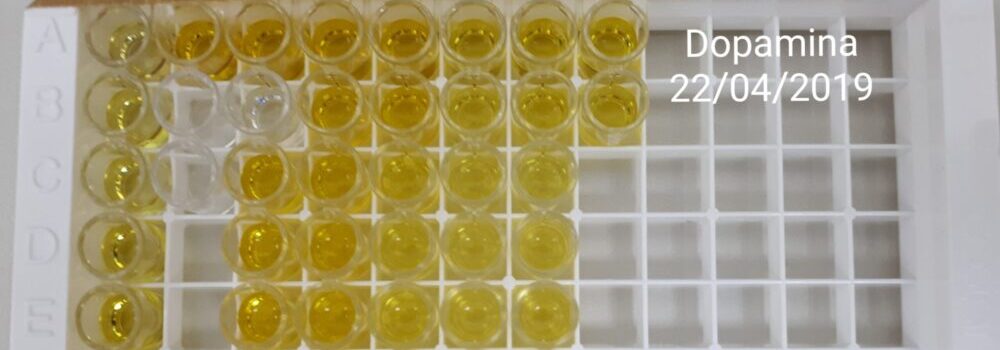Racismo, sexismo e colonialismo. Capitalismo e mercado de trabalho. Divisão racial e sexual do trabalho. A sistemática negação da subjetividade de mulheres e não brancos. Indissociabilidade entre razão e emoção, corpo e mente, cultura e política. A importância das religiões e expressões culturais para lutas sociopolíticas. Formas de resistência cultural, além dos movimentos de revolta e de formação de quilombos, desde a escravidão no Brasil. Limites da representatividade. Relações entre movimentos sociais e a política institucional. Legalização do aborto. Esses são alguns dos muitos temas abordados pela antropóloga, socióloga, historiadora, filósofa e militante do movimento negro Lélia de Almeida Gonzalez.
Finalmente sua extensa obra se tornou acessível com o livro Por um feminismo afrolatinoamericano: ensaios, intervenções e diálogos pela Editora Zahar/ Grupo Companhia das Letras em 2020 [1].
Inaugurada na FLUP (Festa Literária das Periferias), a publicação permite um encontro necessário de nós leitoras e leitores com raízes do Brasil e da América Latina – que Lélia rebatizou de Améfrica Ladina para deslocar a centralidade da matriz ibérica eurocêntrica – há muito soterradas por mitos e não ditos sobre nossa história de colonizados.
Com sensibilidade e respeito à memória de Lélia e de sua família, as sociólogas Flavia Rios (UFF) e Márcia Lima (USP) costuraram magistralmente essa coletânea de seus ensaios acadêmicos, publicações na imprensa, palestras e entrevistas. São textos elaborados de 1975 a 1994, fruto de suas andanças pelos continentes europeu, amefricano e africano, onde se comunicava com militantes e intelectuais internacionais, compartilhando questões raciais, de classe e de gênero em inglês, francês e espanhol, além do português – ou como preferia, sua africanização, o “pretuguês”.
O livro é uma felicidade por oferecer traduções dos textos que estavam em outras línguas, apresentar sua biografia e detalhar as fontes de cada publicação. Além disso, conta com uma introdução cativante, escrita pelas organizadoras, que abre caminhos para conhecermos o conjunto de sua obra e vida.

Em coautoria com o geógrafo e antropólogo Alex Ratts, Flavia Rios escreveu em 2010 a biografia da mineira Lélia de Almeida (1935-1994), filha de mãe indígena e empregada doméstica, Dona Urcinda Seraphina de Almeida, e de pai operário ferroviário negro, Acácio Joaquim Almeida. Se mudou para o Rio de Janeiro aos oito anos de idade com a família, quando um irmão se tornou jogador de futebol do Flamengo. Ao se casar com Luiz Carlos Gonzalez em 1964, adotou o sobrenome pelo qual se tornou internacionalmente reconhecida. A família de Luiz Carlos rejeitou o casamento inter-racial, o que culminou no seu suicídio em 1965. Como a própria Lélia comentou no Discurso na Constituinte (1987), “quando souberam do casamento, daí em diante eu virei negra suja, prostituta”.
Pensamento e ação inovadores
Em seu pensamento podemos ver um imbricamento raramente visto de saberes, para além da interdisciplinaridade. Desde sua experiência política como militante feminista negra à sua densa e diversificada leitura teórica – tecendo fios por marxistas, Jacques Lacan, Frantz Fanon, Simone de Beauvoir, bem como variados interlocutores e interlocutoras africanos e amefricanos. Da vivência na escola de samba Quilombo à sua adesão ao Candomblé, que apresentava uma feminilidade alternativa à imagem ocidental de subserviência e benevolência.
Multifacetada, atuou na fundação do Movimento Negro Unificado (MNU), do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras (IPCN), do bloco afro Olodum e do Nzinga – Coletivo de Mulheres Negras (esse com expressiva participação do movimento de favelas). Assessorou ainda o cineasta Cacá Diegues no filme Quilombo (1984). Integrou o conselho editorial do jornal Mulherio, criado em São Paulo em 1981.
Defensora da justiça social, racial e de gênero, era uma defensora ferrenha da democracia plena, possível somente com a luta antirracista, feminista e de combate às desigualdades sociais. Participou ativa e criticamente do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Foi conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) ao lado de Benedita da Silva – sua “irmã favelada”, como a chamou carinhosamente em Mulher Negra (1985).
Seu pronunciamento na Assembleia Nacional Constituinte (1987), presente da coletânea, mostra seu papel fundamental na reconstrução democrática de nosso país, ao participar de propostas de direito à isonomia no “trabalho, remuneração, educação, justiça, moradia, saúde e por aí afora”. Finalizou seu depoimento com três parágrafos:
1º: Ninguém será prejudicado ou privilegiado, em razão de nascimento, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, de deficiência física ou mental, e qualquer particularidade.
2º: O poder púbico, mediante programas específicos, promoverá igualdade social, política, econômica e social.
3º: Não constitui discriminação ou privilégio a aplicação de medidas compensatórias, visando a implementação do princípio constitucional da isonomia a pessoas pertencentes a grupos historicamente discriminados.
Ademais, ao explicitar a ideia de tripla discriminação em artigos como A mulher negra na sociedade brasileira (1982), Lélia Gonzalez colocava em prática o conceito de interseccionalidade cunhado posteriormente por Kimberlé Crenshaw (1989). Contemporânea da feminista negra estadunidense Angela Davis e de sua obra Mulheres, raça e classe (1981), Lélia demonstrava que mulheres negras são alvo de formas específicas de sexismo e racismo, além de serem excluídas do processo de escolarização, se situarem em posições marginalizadas no mercado de trabalho e possuírem maiores obrigações familiares em casa. Assim, a “articulação entre as categorias de raça, classe, sexo e poder” – conforme descreveu em Por um feminismo afro-latino-americano (1988) – é a espinha dorsal de sua crítica às opressões, à exploração econômica e aos estereótipos sobre indígenas, negros e mulheres, construídos pela história e cultura hegemônicas.
Elaborou ainda o conceito de amefricanidade, a partir de ideias formuladas pelos psicanalistas D.M. Magno e Betty Milan, tendo em vista abandonar o imperialismo subentendido nas categorias afro/africano-americano quando empregadas por estadunidenses. Em A categoria político-cultural de amefricanidade (1988), Lélia defendeu que a amefricanidade permitiria reconhecer a criatividade – exemplificada pela nossa fala em “pretuguês” no Brasil – que emergiu da formação histórico-cultural no continente americano, com a herança dos povos pré-colombianos e africanos deslocados compulsoriamente pelo tráfico negreiro.
Nesse e em outros textos e falas, a feminista amefricana demonstrou a perversidade do mito da democracia racial no Brasil, das teses favoráveis ao embranquecimento nacional e dos imaginários hegemônicos sobre brasilidade produzidos por intelectuais clássicos como Oliveira Vianna, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Gilberto Freyre. Como Lélia refuta naquele artigo A mulher negra… de 1982, “o que Freyre não leva em conta é que a miscigenação se deu às custas da violentação da mulher negra”.
Além disso, seu olhar crítico tocava na ferida das contradições dos espaços variados que ocupava, seja entre homens do movimento negro, seja entre feministas – a essas, lembrou que “a libertação da mulher branca tem sido feita às custas da exploração da mulher negra”, em Cultura, etnicidade e trabalho (1979). Lutar significava impor sua voz frente aos silenciamentos sistemáticos sobre a questão racial e de gênero reproduzidos e justificados inclusive por seus companheiros de esquerda.
Epistemicídio e reconhecimento tardio
Lendo o livro, é inevitável pensar o quanto perdemos por não conhecer Lélia e tantas intelectuais não brancas na faculdade e fora dela. Posso contar nos dedos de uma mão quantos pensadores e pensadoras negras meus colegas e eu lemos durante a graduação em Ciências Sociais na UFRJ (2008-2012). Nos cursos de mestrado e doutorado na mesma universidade, essa realidade só tem mudado mais recentemente. Porém, é mais presente em disciplinas eletivas, ao passo em que nas obrigatórias continuamos lendo sobretudo homens brancos europeus e estadunidenses [2].
Como Yasmin Santos observou em sua resenha A Força de Lélia, esse “apagamento sistêmico de produções intelectuais de autores negros” e indígenas tem um nome: epistemicídio. A jornalista Daniela Mercier lembrou na resenha Lélia Gonzalez Onipresente, que o conceito de epistemicídio foi trabalhado pela filósofa e feminista negra Sueli Carneiro, fundadora do Geledés — Instituto da Mulher Negra. Em sua tese de doutorado apresentada à USP, Carneiro (2005, p.97) argumenta que:
“o epistemicídio é, para além da anulação e desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente de produção da indigência cultural: pela negação ao acesso a educação, sobretudo de qualidade; pela produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e/ou pelo comprometimento da auto-estima pelos processos de discriminação correntes no processo educativo. […] É uma forma de seqüestro da razão em duplo sentido: pela negação da racionalidade do Outro ou pela assimilação cultural que em outros casos lhe é imposta.”.
Esse apagamento é tão disseminado que se manifesta até no registro populacional do país. Nesse sentido, a doutora em Ciência da Informação Bianca Santana enfatizou em sua resenha Leia Lélia Gonzalez o papel do movimento negro – por meio de militantes negras como Lélia e aliados brancos como o sociólogo argentino Carlos Hasenbalg – na reinserção do item cor de pele no Censo do IBGE de 1980. Esse item havia sido retirado pelos governos militares para apagar a situação da população não branca no país, majoritária entre brasileiros.
Portanto, a atuação de militantes negros foi fundamental para termos dados estatísticos e geográficos que serviram de base à elaboração de políticas públicas como as ações afirmativas raciais nas universidades [3]. Como Flavia Rios e Márcia Lima observam na introdução a esse livro, “um novo perfil de alunos passou a ocupar os bancos e a cena das universidades”, redefinindo agendas de pesquisas, pautando variadas dimensões das desigualdades sociais no debate público e propiciando a retomada de referências como Lélia Gonzalez.
Assim, a incorporação da denúncia de epistemicídio negro e indígena na produção do conhecimento só se tornou possível, como é de praxe, com muita luta [4]. A nova geração de alunas e alunos não brancos têm ensinado sobretudo a escovar a história a contrapelo do poder colonial – usando da metáfora de Walter Benjamin, igualmente rememorado pela filósofa Carla Rodrigues em sua coluna sobre a importância de Lélia para o despertar das “centelhas da esperança”.
Que esse lançamento muito bem-vindo faça ventar nessa direção de luta pelo (re)conhecimento, diversidade e justiça, dando relevo às nossas múltiplas raízes sociais, políticas e intelectuais.

Capa original da Zahar, de Elisa von Randow.
Ilustração de Linoca Souza. Vale a pena seguir a @linocasouza no Instagram 😉
Notas
[1] Na página do Facebook da Zahar, há uma série de vídeos com jornalistas e pesquisadores comentando a importância do lançamento do livro: a socióloga Flavia Rios; a pedagoga feminista Schuma Schumaher; as filósofas Sueli Carneiro e Carla Rodrigues; e o jornalista Carlos Alberto Medeiros.
No canal de YouTube da Companhia das Letras, Flavia Rios e Márcia Lima comentaram a importância de Lélia Gonzalez. A mediação da conversa é da jornalista Yasmin Santos, que escreveu a bela resenha A força de Lélia.
[2] O antropólogo Vinícius Venancio de Sousa publicou um fio imperdível no Twitter sobre a falácia de que não havia pensadores negros no período clássico da Antropologia.
No seu perfil no Medium, Vinícius publicou uma proposta de ementa que revela o quanto pensadoras e pensadores negros foram silenciados durante o século XX. Uma das intelectuais que cita é Lélia Gonzalez.
[3] Em janeiro de 2020, a antropóloga Luana Batista e eu publicamos aqui no Deviante um texto sobre luta pelas ações afirmativas para pessoas indígenas e negras na pós-graduação no Brasil, com foco no caso do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, do Museu Nacional, UFRJ.
[4] No dia 21 de dezembro de 2020, o jornal Folha de São Paulo publicou como chamada da coluna da jornalista Ana Cristina Rosa: “Década colocou os negros na faculdade, e não (só) para fazer faxina”. Isso gerou uma enorme repercussão no Twitter, haja visto que as ações afirmativas só foram possíveis pela pressão de intelectuais do Movimento Negro como Lélia Gonzalez e Benedita da Silva dentro dos partidos de esquerda, conforme apontou, entre outros, Emicida. A postura do jornal de apagamento dessas lutas não deixa de ser condizente com os posicionamentos contrários às ações afirmativas raciais expressos por seus editoriais de 2001 a 2011, segundo pesquisa do GEMAA/UERJ (Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa) publicada em 2013 por Luiz Augusto Campos (ECP/UNIRIO) e João Feres Júnior (IESP/UERJ).
Mais sobre Lélia
Lélia Gonzalez figura entre outros grandes nomes da história da cultura e dos movimentos negros – como Abdias do Nascimento e Marielle Franco – no documentário AmarElo – É Tudo Pra Ontem do Emicida, disponível na Netflix.
No especial Falas Negras, dirigido por Lázaro Ramos e idealizado por Manuela Dias, a atriz Mariana Nunes deu voz ao pensamento de Lélia.
No Facebook e Instagram, a página Memorial Lélia Gonzalez, mantida por Ana Maria Felippe, amiga da intelectual amefricana, publica uma série de informações e eventos sobre Lélia e temas caros a ela.
Vale a pena conferir ainda o Projeto Memória – Lélia Gonzalez: o feminismo negro no palco da história, que mantém um site e produziu um documentário.
Referências complementares
Alex Ratts e Flavia Rios. Lélia Gonzalez. São Paulo: Selo Negro, 2010. (Coleção Retratos do Brasil Negro).
Angela Davis. [1981]. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016.
Aparecida Sueli Carneiro. A Construção do Outro como Não-Ser como fundamento do Ser. Tese (Doutorado em Educação junto à Área Filosofia da Educação). Feusp, São Paulo, 2005.
Kimberlé Crenshaw. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum, v. 14, p. 139-167, 1989.
Walter Benjamin. [1940]. Sobre o conceito da história. In: Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994, p.222-232. (Obras escolhidas, v. 1).