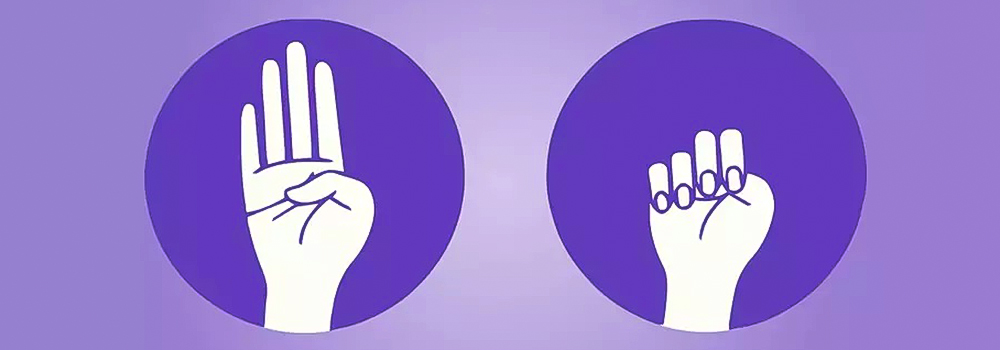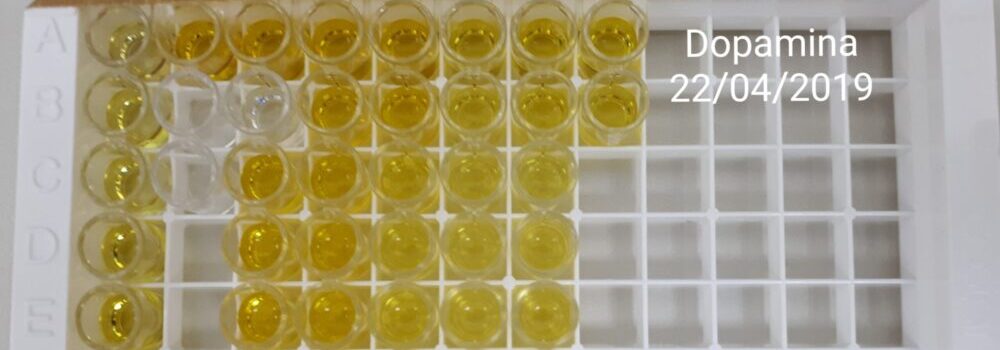Você já deve ter ouvido falar de vício em internet, em redes sociais ou telas. Mas talvez não saiba que esse é um dos maiores vespeiros da psicologia moderna e no texto de hoje vai entender o porquê.
Caso tenha caído de paraquedas por aqui, recomendo que leia isso antes de continuar. É interessante ter uma pequena base antes da gente se debruçar em uma das histórias mais inusitadas do nascimento de pesquisas.
Já deu para notar que eu gosto bastante desse tema, não é? E o interesse foi tão grande que esse babado todinho virou meu trabalho de conclusão de curso (TCC, para os mais íntimos) do curso de Psicologia. E minha gente, o tanto que eu ri, passei raiva, chorei e me indignei fazendo esse TCC…
Imaginem então minha cara de tacho vendo uma galera comparando dependência de cocaína ao uso de açúcar ou do Instagram. Sim, isso rolou e me vi na necessidade de conversarmos de novo sobre vício. Segue esse baile comigo!
26 anos de trolagem (e contando…)
Para a galera da web, 1995 foi um ano animado: foi lançado o Windows 95, entrou no ar o site Yahoo!, a internet começou a operar comercialmente no Brasil, nasceu o youtuber e comediante Windersson Nunes…
Como se não bastasse tudo isso, ainda teria um acontecimento capaz de mudar completamente os rumos do nosso relacionamento com o mundo virtual. O responsável por tudo isso? Um hoax feito por um psiquiatra.
Antes de explanar a fofoca, deixa eu contar o que danado é um hoax, porque isso é coisa do meu tempo [não sei se de vocês]. O termo em inglês pode ser traduzido como farsa ou trote e era comumente usado antes da popularização da expressão fake news.
Pois bem, vamos então ao que interessa. Um belo dia, o psiquiatra Ivan Goldberg estava no tédio e resolveu fazer uma brincadeira com seus colegas médicos, dizendo (por email) que havia descoberto um novo distúrbio psicológico. A pegadinha foi tão bem feita, que ele até parodiou alguns critérios diagnósticos usados pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) na criação da nova doença: o vício em internet.
Mas o boato criou proporções maiores do que o esperado e no ano seguinte, na 104ª reunião da Associação Americana de Psicologia (APA), foi apresentado o artigo “Internet Adicction: The Emergence of a New Clinical Disorder”. Esse episódio marca a primeira vez que o vício em internet é citado formalmente como um problema de saúde mental e são exibidas metodologias pioneiras de tratamento para a questão.
Os cientistas caíram no bait?
O termo “bait” significa isca e é por isso que nos referimos a manchetes tendenciosas como “click bait”. Dito isso, teria a APA sido enganada pela pegadinha do Ivan Goldberg?
A resposta é: não.
Depois do burburinho que o nascimento da dependência em internet causou – na mídia e no meio acadêmico -, em 1996 Goldberg deu entrevista à revista Wired contando como tudo isso começou.
Segundo o psiquiatra, quando a brincadeira se espalhou, ele começou a receber não só pedidos de entrevista, como emails de pessoas interessadas em conversar sobre seu comportamento online. Enquanto isso, psicólogos abriam clínicas especializadas e conduziam pesquisas sobre o assunto.
Ainda nessa mesma entrevista, Goldberg viu a necessidade de bater o martelo e reafirmar que tudo não passou de uma brincadeira. Abaixo seguem trechos traduzidos de sua fala (cujo original está linkado ao final desse texto):
“É tudo bobagem… Não existe vício em internet […] A Internet é tão viciante quanto o trabalho: Claro, há workaholics, mas eles estão simplesmente trabalhando para evitar os outros problemas em suas vidas.”
No meio de tanta polêmica, a Wired ouviu também o psicólogo John Grohol, que trouxe uma análise curiosa da situação. Para ele era inconcebível que profissionais vissem o uso da internet como um transtorno, e de modo a ilustrar isso, falou de duas situações: alguém que lê 10 horas por dia e pessoas que passam quase 30 horas semanais assistindo TV. Nenhum desses indivíduos era considerado viciado, então porque os usuários de internet seriam?
A questão era tão espinhosa que o psicólogo queria levar o assunto para a próxima convenção da APA, apontando que os defensores da existência do vício em internet estariam sendo paranóicos.
Paranóia ou faro de pesquisa?
E aqui já reside aquele que seria o primeiro problema [de uma lista imensa] relacionado a esse campo de pesquisa: esse movimento seria fruto da paranóia que permeia o uso de aparelhos eletrônicos desde a época do telefone (talvez até antes disso) ou na verdade foi um grande faro para um campo de pesquisa totalmente inexplorado? Se cabe minha opinião pessoal aqui, deixo meu pitaco e digo que talvez seja um pouquinho de cada.
Ter medo do novo é um consenso. Tudo que foge do habitual gera algum nível de ansiedade justamente pela sensação de perda de controle. Com o uso de computadores e internet não seria diferente.
Vamos pensar que toda essa polêmica científica estava acontecendo ainda nos anos 90 e de lá até aqui passamos por muita coisa envolvendo tecnologia. A própria mídia influencia(va) a opinião pública sobre diferentes itens, ora tranquilizando a audiência sobre seu uso, ora alarmando-a.
Microondas, telefones, televisores, vídeo-games e até a prensa de Gutemberg [sim, aquele lá dos tempos da tipografia] passaram por processos de desconfiança pública, medo do novo e receio das transformações que poderiam causar. Com a internet não seria diferente!
Ok, até aqui deu para entender que talvez tenha tido um alarde. Mas também tiveram pesquisas, então alguma coisa não… encaixa? Bingo!!!! Lembram dos estudos pioneiros que falei? Até hoje ninguém foi capaz de resolver os problemas, de origem metodológica, presentes ali e isso dificulta a sistematização da dependência em internet como um transtorno psicológico.
Para fazer um diagnóstico, tudo importa, inclusive o método! No estudo pioneiro apresentado na APA em 1996, foram recrutadas 496 pessoas e destes 396 foram diagnosticados como dependentes de internet. O número assusta até a gente descobrir onde os participantes foram encontrados: em um fórum na internet.
Isso por si só não seria um problema, afinal estamos falando de uma pesquisa exploratória, feita para conhecer a viabilidade da área de estudo e nesses casos a amostragem por conveniência é bastante utilizada nas investigações iniciais até que se colete dados o suficiente para elaborar outros protocolos.
Só que não parou por aí. A coleta dos dados foi baseada apenas no auto relato dos participantes e a gente sabe o quanto é difícil relatar as coisas de forma objetiva e fidedigna. No caso do uso de internet principalmente, porque nossa percepção de tempo fica bastante alterada a depender do grau de imersão em determinada atividade online.
Vamos lembrar de novo, novamente, outra vez e quantas vezes forem necessárias que estamos falando do primeiro estudo, de caráter exploratório, em que a própria equipe reconhece a existência de bias e comprometimento dos resultados. Então esse pano eu vou passar, porém com ressalvas quanto à forma como as conclusões do estudo foram apresentadas.
Só que não parou por aí [de novo]. Mesmo tendo resultados insuficientes para bater o martelo e afirmar a existência do novo transtorno, começou-se a reserva de mercado: clínicas especializadas, protocolos de tratamento, livros, palestras, participações em canais de TV… E junto com todo o dinheiro movimentado, vem mais uma questão metodológica: conflito de interesses.
Muitas variáveis em análise
Toda vez que falamos de dependência comportamental, entramos em um enorme dilema conceitual! Explico: a definição padrão fala de uso compulsivo aliado a tentativas frustradas de controle, apresentando ainda aumento de frequência e intensidade ao longo do tempo, trazendo prejuízo a vida de quem experimenta os sintomas.
Mas, para definir um uso exagerado, é necessário existir uma medida de “uso seguro” e como quantificar a “dose segura” de um comportamento? E principalmente, como fazer isso sem se guiar por conceitos de cunho moral do pesquisador?
Atualmente, o paradigma das dependências comportamentais se guia pelos prejuízos que o indivíduo experimenta como consequência de seu comportamento, seja a participação em apostas ou jogos de azar [esse já considerado transtorno real oficial], sexo, compras e até mesmo o uso de internet.
O problema é que a noção de prejuízo é extremamente subjetiva e não ajuda muito na construção de um modelo nosológico. E é esse modelo que vai ajudar a diagnosticar, estimar nível de gravidade, desenvolver estratégias de tratamento, de prevenção, além de fornecer ferramentas para que a prevalência desse transtorno seja estimada na população geral (essa última função é essencial para verificar a influência cultural no curso do distúrbio).
Já vimos então que não é à toa toda a dificuldade no desenvolvimento de metodologias adequadas às necessidades de pesquisa! Digo isso porque não quero apontar ninguém como mocinho ou vilão da história. Cada pesquisador estava ali trabalhando em prol do avanço da ciência, mas não podemos negar que todo mundo precisa pagar seus boletos e que neutralidade científica é algo tão verdadeiro quanto um coelho que bota ovos de chocolate para crianças.
Sem contar em todo esse rolê de quais coisas seriam ou não indicadores de dependência e seus preditivos, cabe pensar também que nem temos tanto tempo assim de operação comercial da internet para avaliar os efeitos da exposição a longo prazo. Talvez agora que temos gerações nascidas já depois dessa imersão virtual, a gente consiga ter uma noção maior dos impactos disso.
Outro ponto tem relação com o contexto cada vez mais informatizado que vivemos, algo que se intensificou durante a pandemia: trabalhamos online, falamos com familiares online, interagimos com amigos online e temos lazer online. Como definir qual o limite entre o saudável e o patológico nessas condições? Fica o questionamento.
É doença ou não é?
A questão não é tão simples como parece! Falar na internet como causa do vício não leva em consideração a sua diversidade de usos, muitos deles não tidos como “viciantes”. Também não conta com o próprio desenho de ferramentas como redes sociais e jogos online, elaborados justamente para que fiquemos tão imersos no seu conteúdo a ponto de perder a noção do tempo.
Ah e sabe o ponto mais curioso dessa história toda? Esse possível transtorno mental até hoje não tem nome! Isso mesmo, cada pesquisa se refere a ele de um jeito e o mais comum é adotar a nomenclatura da pesquisa pioneira: Internet Addiction.
E essa história do filho não nomeado oficialmente se dá justamente porque diferentes grupos entendem o candidato a transtorno de formas distintas. Existem 3 vertentes clássicas:
- Vício comportamental – corrente pioneira na área, considera a dependência em internet de forma equiparada à dependência em substâncias, estabelecendo critérios diagnósticos equiparados quanto ao aparecimento dos sintomas e formas de tratamento.
- Transtorno de controle dos impulsos – surgiu como contraponto à teoria clássica e focava na definição do distúrbio como um problema em controlar os impulsos de uso. Classificado dessa forma, deixava de ser uma condição de dependência para ser uma questão de conflito com autoridade e violação dos direitos alheios, assim como a cleptomania, por exemplo. Essa corrente foi perdendo força justamente por não serem observados conflitos com as normas sociais vigentes em função do uso da internet.
- Comportamento disfuncional – segundo essa perspectiva, o uso excessivo de internet pode ou não ser patológico a depender da observação de outras variáveis, incluindo o funcionamento geral do indivíduo. Pesquisas nesse campo costumam hipotetizar sobre o quadro ser um sintoma ou comorbidade de outros transtornos mentais e não um diagnóstico isolado.
Toda essa dificuldade de dar nome à criança impede a formalização da questão como um diagnóstico. Não é que a gente queira mais uma doença para integrar o rol enorme que já temos, mas isso facilita na criação de testes psicométricos capazes de fornecer padrões diagnósticos e gerar dados epidemiológicos.
E enquanto tudo isso continua em andamento, com as pesquisas atuais migrando para o campo de diferenças individuais e investigando sensibilidade e produção de dopamina, fatores genéticos, componentes estruturais e evidências de aprendizado, vamos à resposta deste último tópico: é ou não é um transtorno? Até agora, de acordo com as pesquisas atuais, não há evidências suficientes para dizer que seja. Dito isso, cuidado com quem afirma categoricamente que internet, redes sociais ou açúcar viciam e continue acompanhando os próximos capítulos dessa novela científica!
REFERÊNCIAS:
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
BRAND, M.; POTENZA, M. N. In memory of Dr. Kimberly S. Young: The story of a pioneer. Journal of Behavioral Addictions, [online], v. 8, p. 1-2, 2019. Disponível aqui.
DONG, G. et al. Precursor or Sequela: Pathological Disorders in People with Internet Addiction Disorder. Plos One, online, v. 6, n. 2, p. 1-5, 2011. Disponível aqui.
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
GOLDBERG; I. BS Detector: Internet Addiction Meme Gets Media High [12 de maio, 1996]. San Francisco: Revista Wired. Entrevista concedida a Janelle Brown. Disponível aqui.
GRIFFITHS, M. D. Internet Addiction: Fact or Fiction?. The Psychologist, Reino Unido [online], v. 12, ed. 5, p. 246-251, 1999. Disponível aqui.
KUSS, D. J. et al. Internet Addiction: A Systematic Review of Epidemiological Research for the Last Decade. Current Pharmaceutical Design, [online], v. 20, ed. 25, p. 1-27, 2014. Disponível aqui.
SHAPIRA, N. A. et al. Problematic Internet Use:: proposed classification and diagnostic criteria. Depression and Anxiety, [online], v. 17, ed. 4, p. 207-216, 2003. Disponível aqui.
SUSSMAN, S.; LISHA, N.; GRIFFITHS, M. Prevalence of the addictions: a problem of the majority or the minority?. Evaluation & The Health Professions, online, v. 34, p. 3-56, 2011. Disponível aqui.
VAN ROOIJ, A. J.; PRAUSE, N. A critical review of “Internet addiction” criteria with suggestions for the future. Journal of Behavioral Addictions, online, v. 3, n. 4, p. 203–213, 2014. Disponível aqui.
YEN, C. F.; YEN, J. Y.; KO, C. H. Internet addiction: ongoing research in Asia. World Psychiatry: Official journal of the World Psychiatric Association (WPA), online, v. 9, n. 2, p. 97-97, 2010. Disponível aqui.
YOUNG, K. S.; YUE, X. D.; YING, L. Prevalence Estimates and Etiologic Models of Internet Addiction. In: YOUNG, K. S.; ABREU, C. N. de. Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2010. cap. 1, p. 3-17. Disponível aqui.
YOUNG, K. S. Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder. CyberPsychology & Behavior, [s. l.], v. 1, p. 237-244, 1996. Disponível aqui.