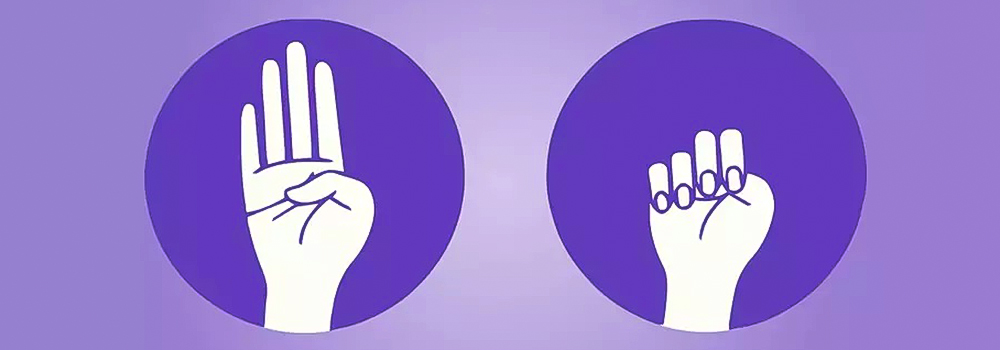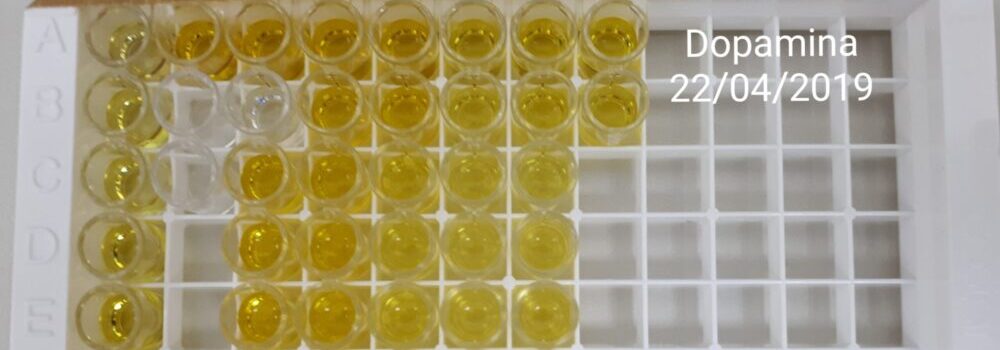Alguém tem seu direito violado e, para que o Estado possa decidir se foi realmente violado e tomar uma atitude, a pessoa precisa contar o que aconteceu. Em praticamente todas as etapas de um processo judicial temos elementos de narrativa. Desde o inquérito policial, com as entrevistas, até a sentença. Vamos ver um pouquinho sobre os elementos de narrativa nas situações menos óbvias, como a entrevista policial e as oitivas de testemunhas, vítimas e acusados.
Quem teve seu direito violado precisa da ajuda de alguém com conhecimento jurídico para embasar o seu pedido ao Estado. Então, uma advogada ou o Ministério Público é quem vai passar essa história pra frente, embasando com elementos legais para justificar o argumento de que o direito foi realmente violado. No caso do processo penal, ainda temos o inquérito policial que, a partir das evidências coletadas e das histórias contadas, passa suas conclusões para o Ministério Público.
O acusado, então, tem direito de resposta, ou seja, a oportunidade de contar a sua versão da história. Importante pensar que, ao contar sua história, o acusado nem sempre vai contradizer tudo o que aconteceu, mas pode acrescentar detalhes que justifiquem suas ações, por exemplo. Para que a juíza tenha todas as informações que precisa para tomar sua decisão, outras figuras também contam suas versões: as testemunhas. É aqui que a construção da narrativa é menos óbvia, mas vamos começar do começo.
Contar histórias faz parte do nosso dia a dia. A gente conta como foi nosso dia, a gente vê filmes e séries, lê livros que contam histórias… Uma conversa com um amigo é bem livre: a gente conta o que quiser (e deixa de contar também), dá mais atenção a certos aspectos e menos a outros. As histórias de filmes, séries e livros são elaboradas com muito cuidado, a autora pode voltar e revisar incoerências, acrescentar detalhes que ela ache importante. Já numa narrativa forense não temos toda essa liberdade. Quem conta a história (seja o acusado, a vítima ou as testemunhas) está limitado ao que é legalmente relevante. E quem decide isso? Quem tem conhecimento jurídico: policiais, advogados, promotores e juízes. A gente fala, então, em uma ‘co-construção’ de narrativa, em que essas figuras ajudam a guiar a narrativa de quem viveu ou viu a história acontecer. É aí que entra um maior ou menor controle da narrativa, que depende de quem está guiando a história.
Vamos falar um pouco de como acontece isso em uma entrevista policial. No passado, chamávamos de interrogatório policial (o CPP e CPC ainda chamam de interrogatório do acusado – feito pelo juiz, mas válido como parte do inquérito policial). Como até muito (historicamente) recentemente vivemos um período de ditadura, era comum que interrogatórios policiais viessem associados a tortura. O foco principal era encontrar um culpado. Com isso, o interrogatório tomava uma forma extremamente controladora. Perguntas como “Não é verdade que _____?” eram bem comuns, o que limita a oportunidade do interrogado de contar a sua versão. As fitas disponibilizadas pelo Mizanzuk no Projeto Humanos – Caso Evandro são um ótimo exemplo (o conteúdo é muito forte!! Cuidado)
Apesar dos resquícios que ainda temos desse período (inclusive no CPP), existe predominantemente uma tentativa de mudança desse estereótipo. Daí uma das mudanças ser o uso do termo “entrevista policial” invés de “interrogatório policial”. Uma entrevista implica perguntas e respostas, como um interrogatório, mas carrega menos peso. A ideia também é que as perguntas sejam menos de confirmação, e mais de pedidos de narrativa, de forma que a pessoa possa falar mais livremente. O papel do policial aqui é colher informação, identificar provas e determinar o que é importante ou não para o caso. É aqui que entra um maior controle, quando usam evidências e/ou outros relatos para esclarecer, confirmar ou requerer detalhes sobre certos pontos. É interessante ver que o CPP diz que no inquérito policial se deve “ouvir” o ofendido e “ouvir” o indiciado. Para se poder “ouvir” é necessário dar espaço para o outro falar.
Falarei rapidamente aqui sobre estas peças só para não passar em branco: denúncia, contestação e sentença. Qualquer pessoa pode provocar iniciativa do MP fornecendo “informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção” (CPP 2017:17). Então, por exemplo, temos uma investigação policial que levou informações para o MP, e o MP é que é responsável por contar a história para a juíza ou o juiz. A história costuma seguir uma ordem cronológica de eventos, mas o principal papel na co-construção da narrativa é o conhecimento jurídico para dar ênfase a determinados aspectos e tirar ênfase de outros. A construção da narrativa na Contestação é ainda mais controlada, já que normalmente não se começa a história do zero, e sim com foco em contrapor/ amenizar o que foi dito. A sentença tem narrativa, mas ainda mais limitada, já que foca em resumir as histórias que lhe foram contadas.
Partindo para as oitivas, até pouco tempo atrás só a juíza ou o juiz fazia as perguntas para as testemunhas, os acusados e as vítimas. Na verdade, é relativamente recente o fato de ser obrigatória a presença do advogado de defesa nas oitivas do acusado. Se o MP ou o advogado de defesa quisessem fazer perguntas, tinham que passar as perguntas para a juíza, que decidia se ia perguntar ou não. Hoje, nas oitivas advogados e procuradores podem fazer perguntas diretamente. Neste caso temos a co-construção da narrativa sendo feita por meio das perguntas.
Apesar de não sermos um sistema adversário (oficialmente), como o common law, aqui vemos característica bem parecidas, já que haverá uma competição por versões da história. Nessa competição, cada advogado vai “puxar a sardinha pro seu lado” usando as perguntas como forma de controlar mais ou menos o que é falado pela testemunha, por exemplo. No caso da oitiva do acusado, é estipulado pelo CPP que esta é a última etapa de um processo antes da sentença. A ideia é que o acusado tenha uma chance final de esclarecer qualquer coisa e que a juíza possa tirar qualquer dúvida que ainda tenha sobre o processo. É uma oitiva “liderada” pela juíza, mas que advogados e procuradores podem fazer perguntas ao final. Como a juíza ou o juiz elabora essas perguntas diz muito sobre como ele entende o papel do juiz (Eu falo um pouquinho disso no Ciência Sem Fio).
Se ela ou ele se vê como alguém que, de acordo com alguns teóricos, deve “buscar a verdade”, suas perguntas terão características muito próximas a de uma entrevista policial, já que esta pessoa entende que o papel do juiz vai além de examinar as provas apresentadas. Outros teóricos entendem que o papel do juiz é ver se as evidências juntadas o permitem concluir se as acusações foram provadas ou não. Neste caso, deve ser predominante o uso de perguntas de confirmação e esclarecimento, já que toda a informação necessária já foi exposta e esmiuçada no decorrer do processo. Há ainda quem entenda que alguns juízes são híbridos e usam das duas estratégias.
Vítimas e testemunhas em situação de vulnerabilidade
O tema ‘vítimas e testemunhas em situação de vulnerabilidade’ está ligado às oitivas, mas também a narrativas “master” que são usadas quando o processo vai a plenário, com júri. Quem são essas pessoas? Aqui no Reino Unido, são consideradas pessoas em situação de vulnerabilidade crianças, pessoas que não possam responder pelos seus atos como pessoas com déficit cognitivo. Neste hall entram também pessoas cuja presença do acusado lhes ameaça, como vítimas de estupro ou violência doméstica. O CPP (Brasil) permite o uso de vídeo conferência em casos de humilhação, temor ou sério constrangimento, mas não há referência a que casos seriam estes. Não sei dizer se os tribunais no Brasil têm esta estrutura, mas aqui no País de Gales, é possível fazer esse interrogatório das testemunhas por vídeo, com as pessoas no mesmo prédio. Há, por exemplo, uma sala decorada para crianças, para deixa-las mais a vontade para falar.
A gente tem dois grandes desafios quando falamos de pessoas em situação de vulnerabilidade: i) perceber que existe uma narrativa máster por trás que nos faz crer que são pessoas com menos credibilidade e ii) parar de usar essa narrativa máster como estratégia de descrédito. O que são essas narrativas máster ou modelos mentais? Bom, enquanto sociedade, compartilhamos muitas crenças e naturalizamos comportamentos. O que eu quero dizer com isso? Que algumas coisas na nossa vida (que são construídas social e culturalmente) são vistas como “aspectos naturais” do ser humano, já que “sempre foi assim” e nunca se questionou isso. São crenças tão enraizadas que são entendidas como verdades indiscutíveis. Parte de várias pesquisas das áreas de ciências sociais e humanidades é questionar essas narrativas, ajudar as pessoas a enxergarem esses comportamentos naturalizados e questiona-los também.
Essas narrativas máster estão intimamente ligadas à credibilidade. Várias pesquisas (Ask 2018:134-135) mostram que credibilidade tem a ver com “características de moral e conduta”, com “mostrar uma impressão positiva de si”. Todos esses são valores construídos socialmente. Pessoas que falam de certa forma (sem hesitação, mais próximo da língua culta, sem hesitação) são vistas com melhores olhos. E isso influencia tanto juízes, como juris e até policiais.
Vamos a alguns exemplos. Apesar de ter resalvas quanto à metodologia desta pesquisa, achei ela bem interessante: Sofia Ask (2018) em um treinamento de policiais fez um experimento com a seguinte simulação:
Os policiais vão assumir uma investigação em curso e, para isso, precisam ler as entrevistas feitas anteriormente para se familiarizarem com o caso. Lhes foi dada também as seguintes informações prévias do caso. Uma pessoa teria ligado para a polícia falando que seus vizinhos estavam brigando. Os policiais deveriam considerar que era um casal heterossexual que estava desempregado e que usava drogas.
A pesquisadora separou os policiais em 2 grupos. Eles deveriam ler a entrevista e dizer a impressão que tiveram da mulher, do homem e da gravidade da situação. Cada grupo recebeu a mesma entrevista, mas com algumas modificações. Essas modificações estavam relacionadas à forma como eram contados os fatos. Por exemplo, em uma das versões “ela alega que não lhe é permitido socializar com outras pessoas e, quando ela quer ir pro bar, ele às vezes a chamava de “puta”, então ela não sai mais”. Na outra versão “ela diz que não lhe é permitido socializar com outras pessoas e, quando ela sai e se diverte, ele a xinga, por exemplo, de “puta”, então ela não quer mais sair”. A impressão dos dois grupos foi bem diferente. Um grupo achou que o caso era menos grave, já que a mulher ia pro bar e tinha amigos homens. Um dos policiais chegou a dizer que não era um caso de violência, mas de ciúmes.
Isso se dá por uma narrativa máster de como uma mulher casada (ou em relacionamento) deve se comportar.
No Spin 398 eu falo um pouquinho sobre vítimas em situação de vulnerabilidade e trago aqui para complementar o texto. No caso das vítimas de estupro, infelizmente, estamos naquela função de reforma de instituições sociais… o que leva uma eternidade, quando acontece. Conley e O’Barr, cujo livro está aí nas referências, trazem uma análise história da definição de crime de estupro que mostra como essas mudanças vêm ocorrendo. A ideia de sexo sem consentimento, por exemplo, não se aplicava ao estupro de escravas. Até recentemente, não se cogitava que mulheres pudessem ser estupradas pelos próprios maridos. O que ainda hoje algumas pessoas refutam…
Isso acontece por causa de mitos sobre estupro. Um primeiro mito é a imagem esperada de um estuprador como aquele cara que vai atacar as meninas que estão andando à noite com uma roupa sexy depois da balada. Um segundo é que comportamento a vítima deve ter quando estuprada (gritar, pedir socorro, resistir…), o que normalmente não acontece, já que não é aquele monstro que está te estuprando, mas sim um tio, seu pai, ou o cara “fofo” da balada. De acordo com os dados apresentados numa aula que tive aqui com a maior especialista hoje em vítimas em situação de vulnerabilidade, a professora Michelle Aldridge, em 90% dos casos, o estuprador é alguém conhecido.
O terceiro mito é uma violência mais séria que diz respeito a culpar a vítima, colocando seu comportamento inapropriado como motivo para “despertar” a vontade no estuprador.
Não se enganem. Estupro tem a ver com poder, não com desejo sexual. Conley e O’Barr dizem que “o abuso de poder que ocorre no ato do estupro é visto como sendo um reflexo de abusos mais amplos que a sociedade tolera e às vezes até promove”.
Então, se quem estuprou não era um monstro, será que foi estupro mesmo? E aí temos aquela violência estrutural, invisível em que passamos a questionar o comportamento da vítima, ao invés de questionarmos o comportamento do estuprador.
Quando os casos de estupro chegam efetivamente ao tribunal há o que é descrito como “revitimização” ou “segundo tipo de estupro”, em que a vítima é obrigada a reviver o que passou. É quando Conley e O’Barr mostram que advogados de defesa vão nadar de braçada nas definições legais que são baseadas uma perspectiva patriarcal de submissão natural da mulher ao homem.
Tem uma frase maravilhosa do Matosian que diz que a linguagem é o mecanismo primário pelo qual as relações de poder são exercidas na sociedade. Então, para esse autor, para buscar essa reforma estrutural é preciso investigar o discurso diário sobre estupro que constrói todos aqueles mitos citados acima.
Quando analisamos os discursos no tribunal, percebemos que há uma discrepância na relação de poder entre advogado e testemunha. A testemunha não pode falar o que quer. Se ela foge da pergunta, por exemplo, o advogado pode interrompe-la. Existem vários exemplos linguístico que mostram como o advogado de defesa exerce esse poder, além da interrupção: o silêncio, que deixa a testemunha que está falando do momento mais desagradável, querendo que tudo aquilo só acabe o mais rápido possível exposta; a forma como as perguntas são formuladas, não deixando muito espaço para respostas que não sejam sim ou não.
Resumindo
Apresentei neste texto alguns aspectos de narrativa presentes no processo penal. Passei por várias etapas mostrando como a narrativa forense se dá por meio de co-construções, como ela está restita à evidências e a relevância legal. Em situações em que a narrativa parece menos óbvia, como na entrevista policial e na oitiva de testemunhas, me demorei um pouco mais falando sobre o maior ou menor controle exercido por policiais, advogados e juizes na co-construção dessas narrativas. Esse controle tem um exemplo bom nos testemunhos de vítimas em situação de vulnerabilidade, que também foram apresentados.
É isso! Este texto foi apresentado no I Seminário Jurídico da Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário da SEAP/RN
- Aldridge, M. 2018. Child Witnesses. Class material, Cardiff University, viewed 20 October 2018.
- Ask, S. 2018. ‘She had it coming?’ An experimental study of text interpretation in a police classroom setting. Nordic Journal of Linguistics 41(2), 133-153.
- Cabral, D. 2019. Lula’s Operation Car Wash trial: A Case Study of Power Struggle in a Defendant’s Questioning.MA dissertation, Cardiff University
- Heffer, C. 2018a. Narrative in Court. PowerPoint slides, Cardiff University, viewed October 2018
- Heffer, C. 2018b. Witness Examination. PowerPoint slides, Cardiff University, viewed December 2018