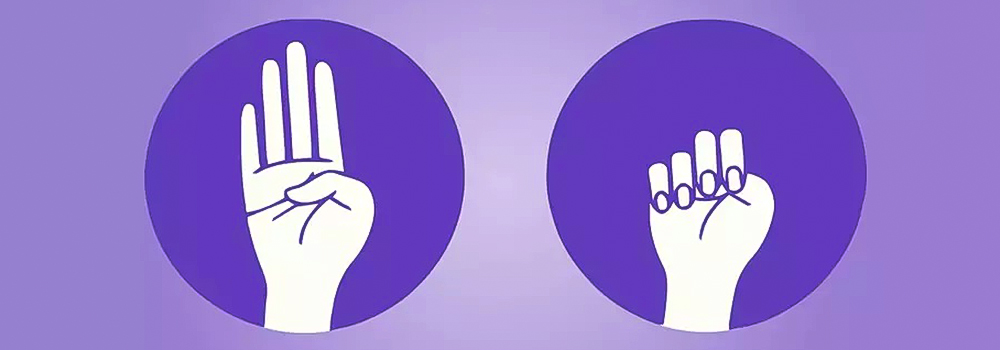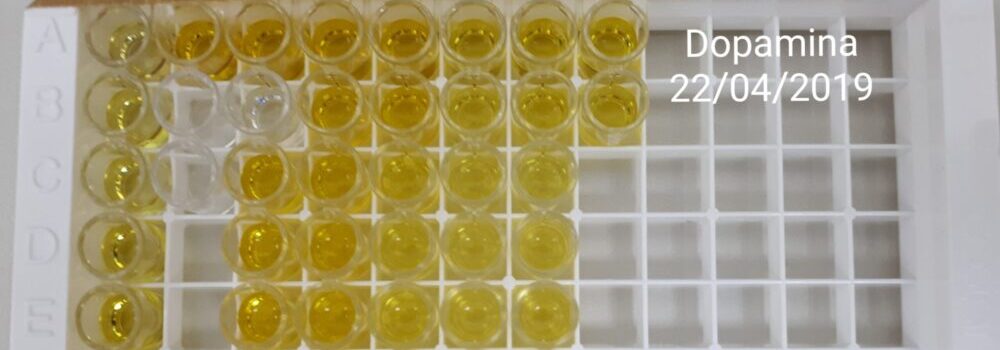Como vocês verão a seguir, a questão “Trabalho e Educação no Brasil” é um tema muito sensível para mim. Escrevo com o coração na ponta dos dedos. Para início de conversa, tenho que dizer que para responder a pergunta do título eu precisarei fazer mais três perguntas. E para ilustrar o texto, trago as imagens capturadas pela lente da fotógrafa e antropóloga Stéphanie Chauvin [1]. Vale o alerta de que os fatos narrados a seguir são coincidências e qualquer realidade com a verdade é mera semelhança :)

Foto de © Stéphanie Chauvin, “O rumo” do projeto “Os trabalhadores do sol”. Niterói, Brasil. 2015
Terminei o ensino médio e pronto: automaticamente passei da categoria estudante para a categoria desempregado. Simples assim. Passe de mágica. Estalar de dedos. Ninguém me perguntou nada e: “Shazam!”.
Bem, na verdade, o único modo de não me tornar desempregado era, obviamente, conseguindo um trabalho. Ou continuar estudante me tornando universitário. Mas… naquela época, universidade era ou coisa de gente rica. Ou coisa de gente da capital. Ou coisa de gente rica da capital.
Eram os anos 2000, início do segundo milênio do calendário judaico-cristão. E, segundo o Censo, a população brasileira era de 170 milhões de pessoas. Entretanto, de acordo com os dados do Censo da Educação Superior, só tínhamos cerca de duas milhões e setecentas vagas disponíveis nas universidades. Se pensarmos apenas na faixa etária mais comum de ingresso (18-24 anos) temos, mais ou menos, uma população de 20.385.730 pessoas no Brasil que estariam “na idade” de entrar na universidade.
Fazendo as contas fica assim: a cada 100 jovens brasileiros com idade entre 18-24 anos, apenas 13 estavam na universidade. E verificando o local de residência, essas treze pessoinhas moravam majoritariamente nas capitais. E São Pedro da Aldeia, minha cidade natal, situada na região dos lagos, bem longe da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, é capital. Não do Rio, claro. É capital do meu coração.

Foto de © Stéphanie Chauvin, “A beleza” do projeto “Os trabalhadores do sol”. Niterói, Brasil. 2015
Entretanto, me sinto obrigado a incluir as pessoas com mais de 24 anos (porque é perfeitamente plausível entrar na faculdade com mais de 24 anos, aliás, eu entrei com 25). Com isso, podemos dizer que só havia vagas para apenas 2% da população que potencialmente poderia ingressar em uma graduação.
Em outras palavras, se excluirmos da conta aqueles que não vão pleitear vaga na universidade porque são:
- bebês (caso você entre na sala de aula e veja um bebê sentado numa cadeira, com caneta e papeis na mão, fazendo perguntas para o professor, dê um passo pra trás. Feche a porta. E tente entrar na sala de novo. Se o bebê persistir em estar lá, procure um médico. Urgente!),
- crianças (caso você entre na sala de aula e veja uma criança sentada numa cadeira, com caneta e papeis na mão, fazendo perguntas para o professor, ela é superdotada e boa pessoa pra você pegar cola na hora da prova),
- e adolescentes até 17 anos (caso você entre na sala de aula e veja um adolescente sentado na cadeira, tente só não se sentir velho),
em cada 100 brasileiros apenas 2% teriam vaga no ensino superior [2]

Jornaleira e contadora de histórias da literatura de cordel. Mercado de São José, Recife, Brasil. 2017. Foto de © Stéphanie Chauvin
Mas voltemos aos anos 2000. Não sou um dos treze estudantes entre cada cem brasileiros. E, na verdade, eu só fui saber que universidade era uma trajetória possível muitos anos depois. Ou seja, desempregado. Shazam.
Currículo aqui, ali, acolá, mais acolá, acolá daqui, acolá de lá. Espera, aguarda, anseia, um mês, dois, seis e nada. Aumentei o raio da busca 10 km da minha casa, 15, 20, 30 km. Passou um ano.
1) Nesse ponto podemos fazer nossa primeira pergunta: eu não tinha trabalho. Mas estava procurando trabalho. Eu poderia ser considerado um trabalhador?
Mas não tem necessidade de responder isso agora. Porque finalmente, por indicação de uma amiga de uma amiga de uma amiga que conhecia um cara, fui chamado para uma entrevista. Quase dois anos depois de estar com meu diplominha debaixo do braço.

Foto de © Stéphanie Chauvin, “A segregação” do projeto “Os trabalhadores do sol”. Niterói, Brasil. 2015
Até hoje eu acho engraçado conseguir reconhecer vários tipos de calçados femininos. Sapatilhas, rasteirinhas, saltos, sapatos, tamanco, scarpin. Consegui emprego trabalhando como estoquista de uma loja em Búzios, cidade vizinha distante apenas 35km da minha casa. Bem, o problema era que 1) um trajeto de 35km é tranquilo de fazer, mas o ônibus dava tanta volta pra chegar que o percurso demorava em média 2 horas. Apenas para ir. 2) O outro é que eu trabalhava seis dias na semana e folgava um. Era difícil organizar meu dia de lazer porque a folga mudava toda semana. E não haveria folga nunca no final de semana. 3) Na minha carteira de trabalho contava oito horas de trabalho diárias, mas como ficava até a loja fechar, era comum seguir acumulando 9 horas, 10 horas. Já trabalhei 12 horas. Nenhuma hora extra.
Logo de cara, foi-me dito que eu não teria carteira assinada e que eu não seria contratado porque a loja fecharia depois de março. Remuneração? Um salário mínimo. Fui contratado para trabalhar apenas durante o verão, momento em que a cidade bomba bastante com a chegada dos transatlânticos lotados de turistas estrangeiros.
Eu era trabalhador, sem dúvida. E estava muito feliz porque finalmente estava ganhando um dinheirinho. Mas, fica a pergunta.
2) Sou um trabalhador. Mas eu comemoraria o Trabalho, ou, no máximo, comemoraria o fato de estar trabalhando?

Foto de © Stéphanie Chauvin, “A roda” do projeto “Os trabalhadores do sol”. Niterói, Brasil. 2015
Não importa. Em três meses, como acordado, fui demitido. Na verdade não foi exatamente um acordo. Eu estava desesperado para obter alguma fonte de renda, então estava aceitando qualquer coisa naquele momento.
Parênteses. É isso o pior da reforma trabalhista que entrou em vigor e que diz basicamente que patrão e empregado sentarão à mesa, discutirão amigavelmente e chegarão em comum acordo sobre os deveres e responsabilidades de cada um. Como se pode ver, não havia uma relação de igualdade entre aquele que ofertava o trabalho (o empregador) e quem demandava trabalho (eu). Pelo menos não nesse exemplo. Desespero não é exatamente um elemento que deixa as pessoas estarem em posição de exigir. Você aceita, e pronto. Há casos em que há relação de igualdade sim, mas comumente nos empregos melhor remunerados e com mão de obra escassa. Não é o caso de um estoquista de sapatos femininos cuja renda é igual ao de mais de 80% da população que recebe um salário mínimo e cujo trabalho poderia ser realizado por qualquer outra pessoa. E também não é o caso de um vendedor de livros, meu segundo trabalho. Fecha parênteses.
Demitido e ainda sem experiência na carteira (lembra, a carteira não foi assinada)… Novamente, currículo aqui, ali, acolá, mais acolá, acolá daqui, acolá de lá. Espera, aguarda, anseia, um mês, dois, seis e nada. Aumentei o raio da busca 10 km da minha casa, 15, 20, 30km. 240 km. Sim. Duzentos e quarenta quilômetros. Jovem, sem trabalho, sem renda, surgiu uma oportunidade de arriscar e ir procurar emprego na capital. Fui morar na casa de duas amigas. Encurtando a história, fui e voltei para o Rio algumas vezes, em uma delas consegui um emprego. Chegar na capital, morando de favor, sem dinheiro para comida, roupa nova pra ir trabalhar, longe da família… O primeiro mês foi desesperador, porque, né, a gente trabalha a credito. Primeiro você trabalha. O salário só no mês seguinte. Foi brabo.

Foto de © Stéphanie Chauvin, “A sincronia” do projeto “Os trabalhadores do sol”. Niterói, Brasil. 2015
Mas vamos lá: a livraria ficava aberta 24hs. Meu turno era de meia noite às oito horas da manhã. Oito horas de trabalho, um salário mínimo, seis dias de trabalho, folga uma vez na semana e nunca nos fins de semana. Dois anos depois de virar “livreiro”, assinaram minha carteira. Pulando de pensão para vagas (quartos em apartamentos de terceiros), de vagas para pensões, às vezes o salário atrasava e eu tinha que implorar para não ser expulso de casa. Todo mundo vivia situação de assédio, principalmente verbal. E achávamos que hora extra era ‘algo de comer ou passar no cabelo’, porque nunca rolou. Recebi muita ajuda pra conseguir seguir trabalhando e vivendo na Capital, seja um teto temporário (muito obrigado Marcelo Maciel), uma marmita (valeu Thiago Augusto), ou aquele afeto e palavras de incentivo (você é minha vida, Bruno Brandão).
E então, agora, eu posso finalmente fazer a terceira e última pergunta:
- Está evidente para você, como está para mim, que não existe a mínima possibilidade de da pessoa aqui comemorar “O Trabalho” no dia primeiro de Maio? Ou melhor. Está evidente que, se fosse para comemorar alguma coisa, seria a solidariedade entre nós, trabalhadoras e trabalhadores daquela livraria?
Se não, deixa eu contar uma outra história aqui que é muito melhor que a minha. O Dia do Trabalho tem suas origens no movimento sindical, especificamente o movimento de oito horas diárias, que defendia oito horas de trabalho, oito horas de recreação e oito horas de descanso. No final do século XIX, a classe trabalhadora sofria com as condições de trabalho da época. A jornada de trabalho era entre 10 e 16 horas por dia, as condições, insalubres, mortes e acidentes no local de trabalho eram parte do cotidiano de milhões de pessoas no mundo todo. Mas foi na década de 1860 que os trabalhadores tiveram forças para exigir, a partir de uma série de protestos, a jornada de oito horas de trabalho (sem que o salário recebesse uma redução correspondente).
Em 1884, em uma convenção nacional em Chicago (EUA), a Federação das Organizações Comerciais e Sindicatos proclamou que, a partir do 1º de maio de 1886, a jornada de trabalho de oito horas seria considerada o dia de trabalho legal. Dois anos depois, no 1º maio de 1886, estima-se que trezentos mil trabalhadores e trabalhadoras de treze mil fábricas americanas se organizaram e deflagraram uma monumental greve nacional pela redução da jornada em várias cidades do país. Dois dias depois, um protesto na fábrica McCormick Reaper Works recebeu forte repressão policial e dois trabalhadores morreram.
No dia 4 de maio, um protesto pacífico na Haymarket Square terminou em massacre. Policiais tentaram dispersar a população que se reunia no local e foram recebidos por uma bomba. É incerto quem a lançou, mas a polícia enfurecida por ter sido atacada revidou atirando a esmo. O caos foi tão generalizado que alguns policiais foram feridos em função dos tiros disparados por seus próprios companheiros. Estima-se que centenas foram feridos ou mortos no protesto, mas, até hoje, o número é incerto. Um monumento aos “Mártires de Haymarket” foi erguido no cemitério da cidade em 1893. [3]

No dias seguintes ao massacre na Haymarket Square, os jornais veiculam fotos e esboços do confronto. Entretanto, apenas os policias mortos recebem destaque. Esboços de Bunnell e Upham. 15 de Maio de 1986.
A luta pela jornada de trabalho de oito horas inspirou outros trabalhadores e trabalhadoras de todo o mundo a proclamar o 1º de maio como um dia de luta, o qual, viria a se tonar feriado nacional apenas em 1919 na França, seguida pela Rússia em 1920. Nos Estados Unidos, a data do dia do trabalho foi transferida para a primeira segunda-feira do mês de setembro e é reconhecida como o “Labour Day”. A mudança, realizada pelo Presidente Cleveland ainda na década de 1880, foi para evitar que novos protestos se organizassem em torno da lembrança do massacre de Haymarket. No Brasil, o primeiro de maio foi consolidado somente em 1925.
Acho que, finalmente, estamos aptos a responder a pergunta do título: O Primeiro de Maio é o dia das Trabalhadoras e Trabalhadores. Um dia de comemoração, sim. Comemoração da solidariedade e dos direitos que viriam a ser conquistados nos anos posteriores. E, também, mais um dia de luta para que esses direitos não sejam retirados. Muito pelo contrário, que sejam ampliados. Um dia para se lembrar que, ainda hoje, cerca de metade da classe trabalhadora no Brasil (44,4 milhões de pessoas) recebe, em média, menos de um salário mínimo por mês [4].
Afinal, em um país em que 4,4 milhões de pessoas recebem, em média, R$ 73,00 por mês, lutar por mais direitos não é lutar por privilégios. É lutar por cidadania. É lutar por dignidade.
E você? O que você acha? Aproveita o embalo e conta a sua história também. Vai ser uma honra ler e conversar contigo. Chega aí nos comentários.

Foto de © Stéphanie Chauvin, “A Mulher” do projeto “Os trabalhadores do sol”. Niterói, Brasil. 2015
[1] Para saber mais sobre seu excelente trabalho, consulte http://stephaniechauvin.com/ e https://www.behance.net/stephaniechauvin.
[2] Caso você queira saber mais detalhes sobre os dados, acesse o documento aqui. http://download.inep.gov.br/download/censo/2000/Superior/sinopse_superior-2000.pdf]. Vale mencionar que em 2014, chegamos a 58,5% da faixa etária entre 18-24 anos no ensino superior. Isso foi possível, principalmente, pela expansão e aumento da interiorização das universidades no Brasil. Agora São Pedro da Aldeia já tem faculdade. Mas nem dá tempo de comemorar, porque desde 2016, estamos piorando novamente. Os sucessivos cortes orçamentários para investimento em pesquisa e infraestrutura estão rapidamente acabando com esses avanços.
[3] Para quem quiser saber mais, consulte o livro “There is Power in a Union” (2010), do historiador americano Philip Dray. infelizmente ainda sem tradução para o português.
[4] Consulte os dados em https://goo.gl/nt2zme. Para um síntese dos indicadores sociais, acesse https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101459.pdf.